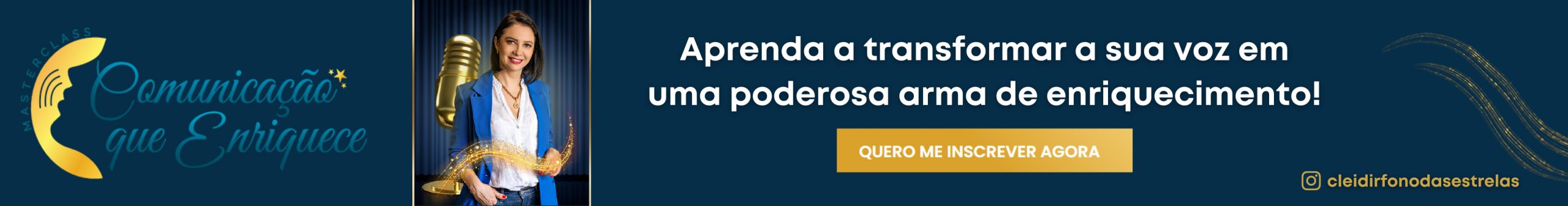POR: Euro Bento Maciel Filho; Antônio Carlos de Almeida Castro – Kakay e Roberta Cristina Ribeiro de Castro Queiroz
Logo ao entrar na faculdade de Direito, o estudante toma contato, ainda nas primeiras aulas do curso, com os princípios que regem a ciência jurídica, os quais servem de alicerce para a exata compreensão do nosso sistema legal.
Nesse momento do curso, portanto, é que o aluno aprende a regra mais básica e fundamental do Direito, qual seja, a de que “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei” (art. 5º, inciso II, da CF/88). Enfim, essa é a essência do princípio da legalidade, expressamente previsto na nossa Constituição Federal.
Referido princípio, é bom dizer, deve ser compreendido tanto como uma barreira, verdadeiro limite, aos mandos e desmandos estatais, quanto como escudo para resguardar o cidadão frente às “vontades” e arbítrios das autoridades. Até bem por isso, diz-se que, da mesma maneira que o particular não está obrigado a fazer o que a lei não manda, a Administração Pública, por sua vez, só pode fazer aquilo que a lei lhe permite.
De efeito, como bem ensina CELSO ANTONIO BANDEIRA DE MELLO, “a Administração não poderá proibir ou impor comportamento algum a terceiro, salvo se estiver previamente embasada em determinada lei que lhe faculte proibir ou impor algo a quem quer que seja. Vale dizer, não lhe é possível expedir regulamento, instrução, resolução, portaria, ou seja, lá o que for para limitar a liberdade dos administrados, salvo se em lei já existir delineada a contenção ou imposição que o ato administrativo venha a minudenciar”[1].
Mas, para a exata compreensão da legalidade, é preciso ter em mente, ainda, que “a palavra lei, para a realização plena do princípio da legalidade, se aplica, em rigor técnico, à lei formal, isto é, ao ato legislativo emanado dos órgãos de representação popular e elaborado de conformidade com o processo legislativo previsto na Constituição (arts. 59 a 69)”[2] .
Dito isto, para que tudo fique bem claro, portarias, resoluções, comunicados, provimentos e outros papeluchos similares, não têm força de lei e, por isso, não se prestam a impor comportamentos aos cidadãos.
Ainda a respeito da legalidade, é preciso anotar que a sua incidência não se dá apenas no campo da “aplicação da lei”, mas, também, no da própria “elaboração” da norma jurídica, a qual se verifica por intermédio de um procedimento legislativo próprio e definido.
Afinal, tão importante como conhecê-las e obedecê-las, é entender como as leis são feitas e, mais que isso, quem pode legislar a respeito de qual assunto. Nesse ponto, então, surge outro princípio relevante, corolário lógico e indissociável da legalidade, que é o da reserva legal.
Foi, portanto, com estrita observância à reserva legal que a nossa Carta Magna definiu, em seu artigo 22, os temas que são de competência legislativa privativa da União, que a exerce por intermédio do Congresso Nacional. E, dentre aqueles, estão o “direito processual” (civil, penal, trabalhista, tributário etc.) e o “direito penal”.
Fica fácil notar, portanto, que, no tocante à aplicação do princípio da legalidade, nosso ordenamento jurídico está sedimentado, basicamente, em duas premissas fundamentais, ambas imutáveis e que não admitem exceções, quais sejam: a-) somente a lei pode impor comportamentos/restrições aos cidadãos, e, b-) uma determinada norma, para ter eficácia e aplicabilidade, precisa ter sido elaborada por órgão legislativo competente.
Mas, diante do período de exceção que atravessamos, como consequência da pandemia causada pelo novo coronavírus, podemos admitir uma quebra (ainda que justificada) da legalidade? A resposta, por óbvio, é negativa.
Contudo, ao menos no âmbito do Poder Judiciário, fato é que esse nosso atual momento de exceção acabou justificando certas alterações procedimentais que, ao menos sob um enfoque inicial, ostentam duvidosa legalidade.
De fato, em virtude da pandemia, as atividades forenses também sofreram profundo impacto, afinal, fóruns ainda continuam fechados, audiências foram canceladas, e, por óbvio, no meio disso tudo, o jurisdicionado foi muito prejudicado no seu sagrado direito de acesso à Justiça.
Entretanto, consoante expressa previsão constitucional, é fato que “a atividade jurisdicional será ininterrupta” (art. 93, inciso XII) e, além disso, essencial. Logo, apesar do Coronavírus, é evidente que as atividades judiciais (sobretudo as audiências e os julgamentos) precisam ser retomadas.
Até bem por isso, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) – cujas competências vêm expressamente descritas no §4º, do artigo 103-B, da CF/88 – tem buscado regulamentar a atuação do Poder Judiciário durante esse período pandêmico, propondo alternativas viáveis para a paulatina retomada da prestação jurisdicional.
Entretanto, como o isolamento social continua sendo a medida mais eficaz para evitar o contágio, o CNJ tem incentivado o uso de ferramentas tecnológicas avançadas, como saída eficaz para compatibilizar, de um lado, a segurança de todos que transitam pelo ambiente forense e, de outro, a necessidade da efetiva distribuição de Justiça a quem precisa.
Assim, foi em nome dessa “segurança” que, lamentavelmente, a Justiça passou a atuar de forma cada vez mais distante do cidadão, na exata medida em que o antigo modelo presencial passou a ser substituído pela forma virtual, na qual tudo é feito por intermédio da tela de um computador. E foi justamente nesse contexto, no qual impera o “distanciamento”, que as audiências por “videoconferência” ganharam força e espaço.
Ocorre que, nesse período de pandemia, como forma de ajustar os procedimentos processuais vigentes à nova realidade, o nosso sistema jurídico tem vivenciado verdadeira invasão de “Provimentos”, “Portarias”, “Resoluções”, “Comunicados” etc., os quais, muito embora não tenham força de lei, acabaram norteando a atuação dos operadores do Direito. Como se não bastasse, é preciso considerar que, sob o beneplácito do CNJ, cada Tribunal resolveu baixar suas próprias determinações internas, assim criando inusitadas inovações procedimentais que, na maior parte dos casos, mostraram-se avessas às leis vigentes.
Sem dúvida, atualmente, há um “direito paralelo pandêmico” em vigor, o qual não se escora em leis, senão que, e apenas, em regramentos administrativos ditados pelos Tribunais do país.
Em meio aquela miscelânea de regulamentos, eis que o CNJ, a partir de atos normativos de duvidosa legalidade, decidiu adotar a videoconferência como alternativa aos atos processuais presenciais. De efeito, a partir da Portaria/CNJ n. 61, de 31 de março de 2020, foi instituída “a plataforma emergencial de videoconferência para realização de audiências e sessões de julgamento nos órgãos do Poder Judiciário, no período de isolamento social, decorrente da pandemia Covid-19”.
Ao depois, a videoconferência voltou a ser abordada na Resolução/CNJ n. 314, de 20 de abril do ano corrente, quando, então, foram delegadas aos Tribunais estaduais tanto a incumbência de disciplinar o trabalho remoto de magistrados e servidores, quanto a tarefa de promover, “de forma colaborativa com os demais órgãos do sistema de justiça”, a realização “de todos os atos processuais, virtualmente” (art. 6º).
Recentemente, foi publicada, no último dia 30 de julho de 2020, a Resolução/CNJ n. 329/2020, cujo texto é expresso ao afirmar que “a realização de audiências por meio de videoconferência em processos criminais e de execução penal é medida voltada à continuidade da prestação jurisdicional, condicionada à decisão fundamentada do magistrado” (art. 3º). Referida Resolução, insta aqui dizer, tem por escopo “permitir” e regulamentar o uso da videoconferência na realização de audiências e outros atos processuais.
Nota-se, pois, que a adoção da videoconferência foi, de fato, a alternativa adotada pelo CNJ para permitir a continuidade da atuação jurisdicional em tempos de pandemia. Trata-se, portanto, nos termos expressos da referida Resolução 329/2020, de medida “transitória e excepcional”, aplicada em substituição à forma presencial prevista em lei.
E é justamente essa banalização da videoconferência, por mais justos sejam os motivos da sua adoção, que fere, de morte, a legalidade e o devido processo legal.
Mencione-se, por relevante, que a realização de audiências por videoconferência não é algo novo no nosso Direito Processual Penal, afinal, desde a Lei 11.900/2009, o nosso C.P.P. admite o uso daquela ferramenta, porém, em situações absolutamente justificadas e excepcionais. Ou seja, a nossa lei processual penal está redigida de forma a privilegiar os atos processuais presenciais, relegando a videoconferência para situações especialíssimas.
Com efeito, a Lei Adjetiva Penal prevê, expressamente, apenas três únicas situações nas quais a videoconferência pode ser adotada. São elas: a-) artigo 185, §2º, que trata, especificamente, da realização do interrogatório judicial do acusado preso; b-) art. 217, que é específico para situações nas quais a testemunha não queira depor na presença do acusado; e, c-) art. 222, §3º, cujo preceito é específico para o caso de testemunha residente fora da Comarca do Juízo processante.
Logo, o uso da videoconferência para a realização de interrogatórios de réus presos, ao arr0epio das expressas disposições da lei processual penal, ou, então, para interrogatórios de réus soltos, bem como para oitivas de testemunhas residentes na Comarca do Juízo Processante, são, claramente, situações que burlam a legalidade. Porém, atualmente, a Lei Processual Penal tem sido deixada num segundo plano, sob a escusa de vivermos um momento de exceção, o que não pode servir de justificativa para a quebra de preceitos jurídicos fundamentais, estribados em normas constitucionais expressas.
Apenas para que tudo fique bem claro, cumpre dizer que o cerne da questão não está na videoconferência em si, já que o uso daquela ferramenta no processo penal realmente tem previsão legal. O problema é outro, qual seja, a adoção geral e irrestrita daquela tecnologia, em toda e qualquer audiência de instrução, ao completo arrepio da vigente lei processual penal.
Nesse ponto, cumpre sempre lembrar que as regras procedimentais estabelecidas no nosso Código de Processo Penal têm evidente viés garantista. Afinal, a estrita obediência às formalidades processuais (due process of law) deve ser vista tanto como garantia inerente à salvaguarda do sagrado direito de ir e vir do cidadão quanto, também, como proteção ao jurisdicionado, na exata medida em que lhe garante um processo justo, regulado por regras claras e precisas.
Sendo assim, é imperioso admitir que aquilo que não está expresso na lei, não pode ser imposto ao cidadão. Por conta disso, como o uso indiscriminado da videoconferência nas audiências de instrução criminais – isto é, fora daquelas expressas “permissões legais” – não encontra amparo na legislação processual penal vigente, é manifesta a ofensa à legalidade.
À luz do nosso C.P.P., essas tais audiências de instrução por videoconferência, decorrente de um ilegal “direito pandêmico”, representam verdadeira afronta ao Texto Constitucional. Ao cabo de contas, de um lado, em virtude do princípio da reserva legal, é cediço que o CNJ e as Cortes Estaduais não possuem competência legislativa em matéria processual e, de outro, é óbvio que “Provimentos”, “Portarias”, “Resoluções” e demais quejandos, não têm – e nunca tiveram – força de lei.
Logo, se há mesmo interesse no uso (e abuso) da videoconferência ao longo da instrução dos feitos criminais, é preciso, para a sua legítima utilização, ou que haja prévia, e expressa, concordância das partes (o que, infelizmente, não é levado em consideração), ou, então, que o legislador competente altere a lei processual penal, a fim de regulamentá-lo. Da forma como está, o que temos, hoje, é um método canhestro e ilegal de audiência, que viola o devido processo legal, afronta a ampla defesa e, principalmente, desafia a legalidade.
Antônio Carlos de Almeida Castro – Kakay é advogado criminalista
Roberta Cristina Ribeiro de Castro Queiroz é advogada criminalista
Euro Bento Maciel Filho é mestre em Direito Penal pela PUC/SP. Também é professor universitário, de Direito Penal e Prática Penal, advogado criminalista e sócio do escritório Euro Maciel Filho e Tyles – Sociedade de Advogados.
Para saber mais, acesse – http://www.eurofilho.adv.br/ pelas redes sociais – @eurofilhoetyles; https://www.facebook.com/EuroFilhoeTyles/ , ou envie e-mail para atendimento@eurofilho.adv.br
[1] MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 25ª ed. São Paulo. Malheiros, 2008, pp. 102/103.
[2] SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo.30ª ed. São Paulo. Malheiros, 2008, p. 421